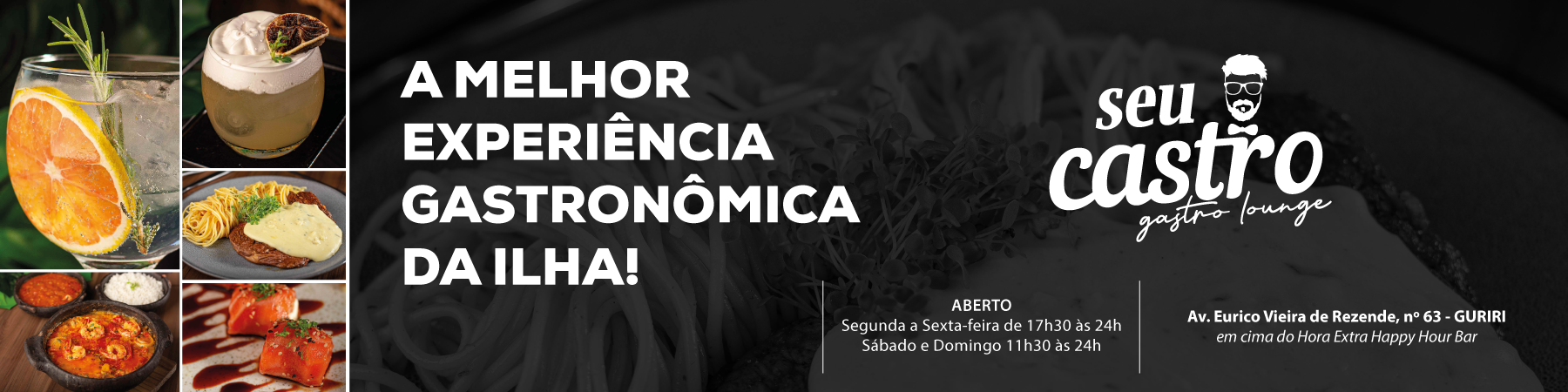DHIEGO MAIA E KARIME XAVIER
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A empresária Patrícia, 56, acha que, ao sair do armário, vai perder seus clientes. A musicista Débora, 56, teme ser acusada de assédio sexual. Já a advogada Andreia, 40, vê a mãe depressiva. E o medo da educadora física Juliana, 32, é ser uma decepção para os pais dela.
Essas quatro mulheres lésbicas, cujos nomes foram trocados para preservar suas identidades, dizem que não podem expressar o que são porque perceberam um clima mais hostil contra suas existências.
É contra essa hostilidade que, neste sábado (29), é comemorado o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. A data foi criada em 1996 durante o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas (Senale), no Rio.
De lá para cá, ficou decidido que o dia seria usado para denunciar, além da invisibilização, todas as formas de violência sofridas pelas lésbicas.
A advogada Ananda Puchta, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB do Paraná, afirma que a pauta lésbica sempre ficou em segundo plano no Brasil porque “tudo o que a mulher fala precisa ser respaldado por um homem”.
Nos anos 1980, Patrícia teve a coragem de enfrentar o pai quando percebeu que amava mulheres. Passou por sessões de “cura gay”, teve o telefone de casa grampeado e foi forçada a sair do país para virar mulher heterossexual.
A guerra familiar só terminou quando os pais dela morreram. Dona de um pet shop há 25 anos na capital paulista, a empresária notou que desde a ascensão do governo de Jair Bolsonaro (sem partido) deixou de ser ela mesma.
“Eu percebi que as pessoas começaram a expor livremente seus preconceitos”, afirma ela. “A sensação é muito ruim porque é como se eu tivesse que me esconder.”
A empresária não fala abertamente que é lésbica desde que viu a postagem de uma cliente dela nas redes sociais contrária à adoção de crianças por casais LGBTs.
A mesma sensação tem a musicista Débora. Ela não enfrentou preconceitos em casa por causa de sua orientação sexual. Chegou a se casar com um homem, mas viu que tinha mais atração por mulheres.
É na escola pública de artes, em São Paulo, onde leciona música para crianças de 7 a 12 anos, que a professora precisa entrar no armário. “E não é por causa dos meus colegas, mas pelos pais dos meus alunos”, conta.
Débora diz que mantém uma relação de muita proximidade com as crianças que, durante as aulas, trocam abraços, beijos e sentam no colo dela. “Eu senti que, se eu falasse que sou lésbica, teria a minha afetividade questionada. É muito louco, mas penso que posso até ser acusada de assédio sexual”, afirma.
Para Suane Soares, pesquisadora de questões lésbicas da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), o medo da professora paulista faz sentido. “Ser tachada de predadora sexual de crianças é mais um estereótipo associado à imagem das lésbicas”, diz.
Soares explica que a sociedade, sendo machista e patriarcal, molda os indivíduos para que eles cumpram determinados papéis na manutenção desse sistema.
E qual é o papel da mulher?, questiona a pesquisadora. “É o de subserviência, preservação da família e da linhagem masculina”, diz. “Mas as lésbicas são um erro do patriarcado porque não reproduzem esse modelo.”
A educadora física Juliana lembra que lésbicas como ela são aceitas quando têm seus corpos fetichizados. “Também já ouvi que uma mulher ama outra porque tem carência e fraquezas”, afirma.
E é por meio da violência que o sistema atua para corrigir a disfunção lésbica, explica Soares. As táticas mais usadas são o estupro corretivo, o apagamento ideológico e a exclusão delas no mundo do trabalho e da família.
De acordo com o Dossiê Lesbocídio no Brasil, que mapeia mortes violentas de mulheres lésbicas, 126 casos foram identificados de 2014 a 2017 –a maioria deles (82) ocorreu no interior do país.
Eide Paiva, pesquisadora do campo da lesbianidade na Uneb (Universidade do Estado da Bahia), quase entrou nas estatísticas de violência só por ser lésbica.
Em 2006, ela recebeu uma carta anônima que dizia o seguinte: “você vai ser currada, esquartejada e jogada no mato”. Naquela ocasião, a pesquisadora estava à frente de grupos feministas que discutiam a violência contra as mulheres em Conceição do Coité (a 218 km de Salvador).
Paiva expôs a ameaça, ganhou aliados, fez mestrado sobre o tema e, hoje, forma professores em questões de diversidade.
Para Soares, da UFRJ, não basta apenas colocar a letra L à frente da sigla LGBT, uma conquista que completou 12 anos. “É preciso garantir políticas públicas para as lésbicas. O emprego, por exemplo.”